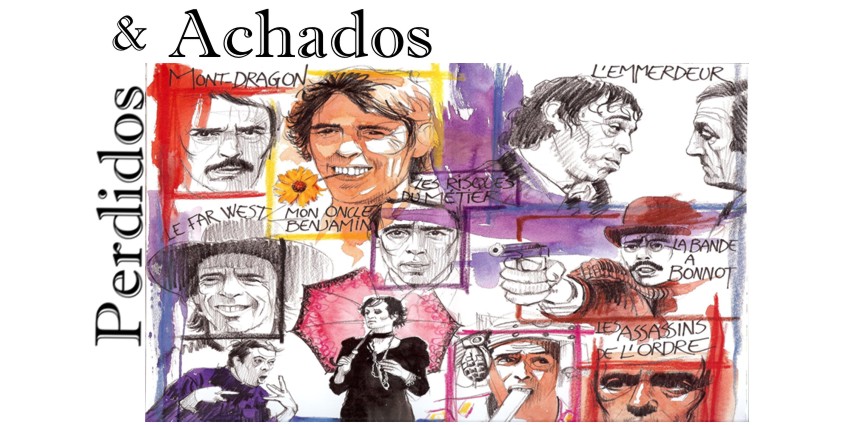Dead Man (1995) é um road movie do diretor cult Jim Jarmush, uma espécie de viagem ao ambiente selvagem do velho oeste, mas feita por um personagem contemporâneo. Nesse retorno ao western, o autor se apropria da reflexão típica do gênero cinematográfico (o pacto civilizatório) e promove um choque entre personagem/ambiente, conseguindo ilustrar bem uma situação própria do nosso tempo, ainda difícil de ser explicada: a "desterritorialização".
Dead Man (1995) é um road movie do diretor cult Jim Jarmush, uma espécie de viagem ao ambiente selvagem do velho oeste, mas feita por um personagem contemporâneo. Nesse retorno ao western, o autor se apropria da reflexão típica do gênero cinematográfico (o pacto civilizatório) e promove um choque entre personagem/ambiente, conseguindo ilustrar bem uma situação própria do nosso tempo, ainda difícil de ser explicada: a "desterritorialização".A história é simples, um contador chamado Willian Blake (interpretado por Johnny Depp) viaja para uma cidade do oeste americano em busca de um emprego reservado para ele na metalúrgica. Chegando ao destino descobre que a vaga já foi ocupada por outro e, perdido naquele ambiente hostil, se envolve numa confusão. Acusado de assassinato, Blake passa a ser cassado por homens que querem sua cabeça à todo custo e é gravemente ferido. Na fuga ele conhece um indio chamado Nobody (Ninguém), que acredita ter encontrado realmente o poeta inglês e sem poder salvar sua vida toma a responsabilidade de guiá-lo à morte.
No filme o enredo é o que menos importa, os personagens são todos apresentados alegoricamente, ampliando suas representações para além da narrativa. Num primeiro momento, pode parecer que o autor reduz a força alegórica ao explorar exaustivamente o clichê do gênero (homem branco civilizado, pistoleiro selvagem, índio xamã), mas em interação com características do mundo pós-moderno, percebemos o oposto.
Ao inserir dois personagens sem identidade cultural e enraizamento simbólico àquele contexto selvagem do western, Jim Jarmush faz uma releitura apocalíptica do gênero. Imagine só, um índio rejeitado por sua tribo (sem crenças fixas) resolve pegar a missão suicida de ajudar outro homem (praticamente morto) na passagem para outra vida. Há um sentido nessa missão? Ou uma busca por sentidos?
Apesar do diretor ressuscitar um gênero "que já deveria estar morto", todo o filme é uma espécie de ritual fúnebre da passagem do western, e do personagem, ao mundo dos mortos. É como se dissesse que o gênero ainda não morreu, ou seja, a discussão sobre civilização e barbárie (principal conceito por trás) ainda é atual, mas agora produzindo mais incertezas.
Destaque
Outro ponto a se destacar é a bela fotografia em preto e branco do filme, dando o tom apocalíptico e hipnotizante à essa viagem espiritual (sem saída) do personagem em direção ao desconhecido. A trilha sonora, produzida por Neil Young especialmente para o filme, traz sons que sustentam o sentido imagens, como acordes de guitarra com timbres bem graves reforçando o peso do destino de Blake: a morte. Ao invés de gravar canções, Young produziu uma trilha sonora com sons de guitarra elétrica, violão, piano e orgão sobre as imagens, dando maior densidade à obra.
P.S.: Lembrei desse filme quando vi pessoas dizendo que Johnny Depp era um "embuste". Na hora comecei a pensar em alguns dos seus filmes e não demorou para lembrar de grandes personagens criados pelo ator. O contexto eu não me lembro bem, mas era o lançamento de um dos seus últimos filmes.
Não me propondo aqui provar o contrário, até porque é fácil identificar de onde parte o adjetivo, de um grupo que normalmente tenta se apropriar do status de ser espectador incomum. Essas pessoas não interagem profundamente com a obra de arte, ao contrário, mantêm com ela uma forma de conquistarem status por serem espectadores privilegiados e usam para se segmentarem na sociedade. O própria adjetivo embuste, usado sem argumentos que o sustentem, é carregado de preconceito de quem se vê num local privelegiado dos não enganados.
Aqueles que acham realmente que o ator Johnny Deep é uma enganação é que devem se esforçar para provar o contrário do que diz sua trajetória. Só lembrando que o ator criou vários personagens bem diferentes na sua trajetória e trabalhou com diretores consagrados. Deep tem uma das mais significativas parcerias do cinema nos anos 90, com o diretor mais autoral de Hollywood, Tim Burton. Trabalhou também com Oliver Stone, John Waters, Michael Mann e Jim Jarmush. Enfim, a vida do ator pouco importa perto de sua obra. Mais uma última informação, só pra constar mesmo, Jhonny Deep já dirigiu o ator Marlon Brando.